O olhar do escritor face as utopias vividas em Moçambique nos anos 70.
Publicado em 1972, o livro “Cacimbo”, de Eduardo Paixão descreve os últimos anos de ocupação colonial portuguesa em Lourenço Marques (Maputo) seguindo os amores e dissabores de uma família portuguesa em Moçambique.
Um importante livro na sua época, pois capta as emoções e contradições de uma geração no meio de um conflito intenso e de várias mudanças, em todo o mundo. Assim, o autor explora os conceitos de (des)colonização; socialismo/ comunismo; identidade; nacionalidade e raça.
Nota-se no seu tom que o livro é mais um manifesto do que romance, na medida em que propõe uma acção ao leitor, fazendo denúncias aos princípios ultrapassados que justificavam o Colonialismo e evidenciando a necessidade de se criar uma nova realidade para Moçambique.

Usando-se dos personagens para representarem determinadas figuras/ valores da sociedade, o autor então vende-nos esta nova realidade, a tal utopia, re-imaginando-os.
Por exemplo, D. Emília de Sucena, representa os valores da família e a figura da mulher-mãe na sociedade colonial: zelosa; ocupada com reuniões sociais, jantares e institutos de beleza.
O seu filho, Artur, representa a revolução: a juventude activa; o inconformismo; a fúria e desgosto de quem se vê com poucas armas para defender os seus ideais.
Também o narrador, omnisciente, serve de porta-voz para a razão. Ele é que legitima todo o fundamento ideológico ao longo da história, mostrando não só o que o personagem verbaliza, mas também o que pensa.
No entanto, ao se tornar testemunha, o próprio narrador mostra algumas contradições, pois se por um lado condena o Colonialismo e sonha com um mundo em que todas as raças possam viver harmoniosamente, por outro é incapaz de denunciar as atrocidades e a brutalidade do Colonialismo Português.
Ainda que de forma sofisticada, Eduardo Paixão, procura sempre a visão luso-tropicalista do bom colonizador português.
“O nosso tradicional multirracialismo possibilitava-nos um presente de paz e amor” (p.132)
Pela voz de Anabela acrescenta, mais tarde:
“Felizmente nós [os portugueses] não praticamos a segregação racial que leva ao ódio e à destruição.” (p. 244)
A única figura racista no livro é D. Emília, que se vê desconfortável pelo seu filho namorar com uma rapariga negra.
“Era o maior desgosto da minha vida ver o meu filho casado com uma rapariga de cor.” (p. 126)
É por isso interessante cruzar todos os discursos e imaginar a tal utopia que nos tenta vender Eduardo Paixão. Que mundo é esse em que brancos e pretos vivem harmoniosamente? Como construir esse mundo em que brancos e pretos são igualmente livres?

Eduardo Paixão, como criador também é, ele próprio, a História. Pois é através do seu olhar que desenhamos a sua época. Por isso temos de digerir essas tensões que tanto o incomodam. Será Portugal um “bom colonizador”? Como repudiar o Colonialismo Português sem ser anti-Portugal?
É esta constante comichão que sentimos ao ler “Cacimbo”: um cansativo e desesperado exercício para defender um ideal sem ferir a realidade que conhece e que o molda.
Inserir os personagens, a narrativa e o próprio autor no devido tempo e espaço, com todas as ideias, preconceitos, contradições e transformações é essencial para perceber a obra.
As utopias descritas em “Cacimbo” continuam actual na medida em que a visão colonial ainda não foi concretizada e precisa de nós, desta actual realidade para se decidir – O que é isto de ser livre, afinal?














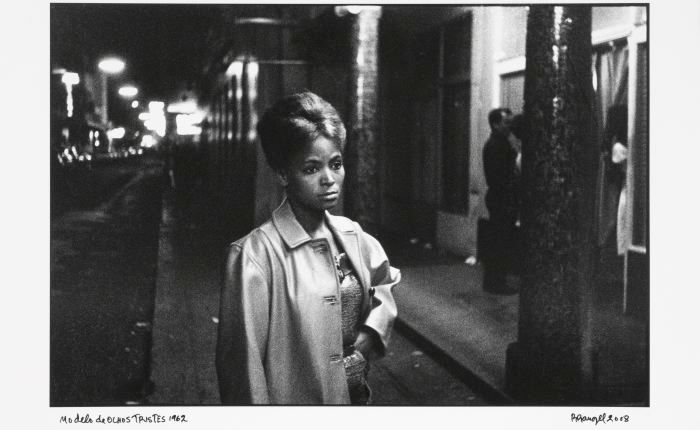





 Este é um livro sobre pessoas esquecidas, pessoas que querem esquecer e/ou pessoas que querem ser esquecidas. E claro, sobre os processos de reconstrução ou destruição que devem ser feitos para que isso aconteça.
Este é um livro sobre pessoas esquecidas, pessoas que querem esquecer e/ou pessoas que querem ser esquecidas. E claro, sobre os processos de reconstrução ou destruição que devem ser feitos para que isso aconteça.